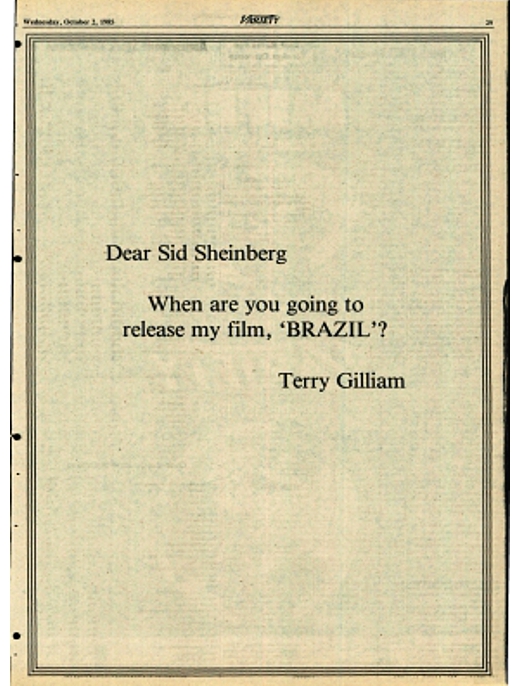Extraído da edição 49 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente.

São raros os filmes monumentais; aqueles que te submetem a um estado contemplativo de agradecer à Estética. Esporadicamente, um alinhamento perfeito entre os indivíduos envolvidos na produção presenteia o mundo com a demonstração de uma visão capaz de unir forma e conteúdo primorosamente, fornecendo uma obra tão estupidamente bela que assombra sua memória em razão do poema visual com que teve contato.
Isso aconteceu com O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford (2007), um western pouco western. Nele, a ideia de “a cada frame uma pintura” foi executada com um capricho ímpar pelo diretor australiano Andrew Dominik, que dispunha de uma carta sagrada na manga: o diretor de fotografia Roger Deakins. Inglês (não confundir com Dickens), o arcanjo das lentes é colaborador frequente dos irmãos Coen (e, mais recentemente, de Denis Villeneuve).
Mas o filme não é só – visualmente – espetacular. Dominik adaptou a película de um romance homônimo de Ron Hansen (1983), potencializando suas forças, amenizando suas fraquezas e conferindo uma caracterização bastante vitoriana, dessaturada, sem chapéus de cowboy ou barris. O livro, apesar de competente, não é uma obra-prima. Por sua vez, Nick Cave e Warren Ellis (que também faz parte dos Bad Seeds) compuseram a belíssima trilha sonora.
Jesse James, um personagem histórico (nome familiar?), é um capítulo à parte – em algum momento, falaremos sobre ele por aqui. Mas conhecer sua vida não é necessário para apreciar a película. James foi um fora-da-lei que havia lutado na Guerra Civil Americana defendendo violentas guerrilhas dos Confederados. Bandido frio, herói local, Robin Hood… tornou-se um personagem folclórico cujas lendas e fatos se misturam na mesma nascente.
James morreu (ou fingiu a própria morte) em 1882, assassinado – pasmem – por Robert Ford, um colega, amigo e discípulo que o idolatrava. Seu assassinato foi um evento histórico em razão da popularidade da vítima, àquela altura uma celebridade para uma cultura moderna que se erigia. Tanto o romance como o filme retratam o protagonista como um homem temido porém perturbado, perseguido por traumas antigos e cansado do fardo da vida.
Brad Pitt, também produtor da obra, o interpreta. Pitt, que já fez aquele filme, aquele outro e aquele outro, declarou à GQ que “meu filme favorito é o de pior resultado entre tudo que já fiz, O Assassinato de Jesse James” (e o afirmou dez anos depois, não em uma entrevista de promoção com blogueiros – detalhe importante). Em sua pele, James, neurótico e melancólico, está à beira da insanidade.
Ao lado dele, vemos o irmão Affleck talentoso; Sam Rockwell; Mary-Louise Parker; aquele herói dos Vingadores que atira flechas e até a Zooey Deschanel. Na condição de antagonista perturbado, Affleck é impecável: numa trama cujo desfecho já é revelado pelo título, seu personagem segura as pontas para manter a ambiguidade necessária em sua relação com o protagonista. Ao longo da narrativa, portanto, as revelações são primordialmente psicológicas – e o que se se sucede após o assassinato em questão é tão importante quanto este fato.
O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford, enfim, é um filmaço. Se desconfia que eu esteja exagerando, assista a essa cena em tela cheia, na mais nítida definição do vídeo e com som alto. Cena que, aliás, foi homenageada no último Red Dead Redemption. Outros argumentos audiovisuais repousam aqui e aqui.
Então por que, diante de tamanha chupação – oito parágrafos, no nosso caso –, esse filme passou tão batido?
Porque O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford foi boicotado pela própria produtora/distribuidora.
Dominik e Pitt, com o apoio de Ridley Scott – também produtor –, brigaram com a Warner Bros. por um controle maior sobre a edição final. Até aí, tudo bem: nada mais ordinário na indústria. Tão desconfiado como envolvido, a estrela principal mantinha uma cláusula em contrato que impedia qualquer alteração do título do filme (o que não permitiu que o pouco acessível nome da obra se tornasse, digamos, Clube da Pólvora ou Deu a Louca no Cowboy).
Mas o conflito tomou proporções maiores. Diante da recepção fria dos testes de público a um western com pouca ação e muita contemplação – “é realmente desprovido de enredo”, resumiu Dominik –, o processo de edição levou nove meses e algumas demissões do diretor. Havia uma confusão, para os espectadores, sobre a postura de Brad Pitt no filme: não fazia sentido que uma estrela daquele calibre, interpretando o protagonista, fosse tão melancólica.
Dessa forma, preocupações surgiram no estúdio, àquela altura já preocupado com a duração da película, que viria a ter 160 minutos. Toda a etapa de pós-produção levou mais de um ano e contou com editores diferentes – Michael Kahn, por exemplo, foi enviado pela Warner para compor um filme com menos de duas horas. “Pagaram a ele uma fortuna, e acho que ninguém sequer olhou aquela versão”, contou Hugh Ross, assistente cuja voz, a princípio provisória, viria a permanecer como a narração do filme.
Diante da recepção invariavelmente morna a diferentes cortes – e muito por conta do apoio de Brad Pitt e Ridley Scott –, o estúdio aceitou a versão inicial de Dominik, que contratualmente não tinha direito à palavra final. Ainda que com restrições, o filme a que temos acesso foi primordialmente – embora não totalmente – encaixado pelo diretor.
No entanto, a vitória se mostrou parcial – pírrica, talvez. Porque a partir disso a Warner desistiu. Isto é, não só de uma versão, mas do projeto como um todo. Antecipando o que considerava um iminente fracasso de público, a companhia sequer tentou divulgá-lo. Quando finalmente estreou, em 21 de setembro de 2007 – um ano depois da data anunciada –, O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford podia ser visto em… cinco cinemas dos Estados Unidos.
Sem qualquer esforço para divulgar o filme, a Warner seguiu a lógica de que, se você não tentar, não pode perder. Aos poucos, com críticas positivas, a produtora/distribuidora lembrou de, afinal, distribuir, e a obra chegou a constar em 301 telas americanas ao longo das 19 semanas em que foi exibido. Mas os dados já haviam sido lançados: não houve qualquer chance de a película gerar um impacto para além de nichos específicos.
E assim, O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford arrecadou domesticamente cerca de um décimo dos $30 milhões gastos para sua concepção, e pouco mais do que isso globalmente – $4 milhões. Teve duas indicações ao Oscar – Roger Deakins na cinematografia; Casey Affleck como ator coadjuvante. “Sempre me deixou perplexo como o roteiro é uma adaptação fiel ao livro, e o filme é exatamente o roteiro. Não sei o que eles estavam esperando”, sintetizou Ross. O estúdio sabia exatamente a aposta que havia feito.
De acordo com Dominik, há pelo menos outras três versões mais longas do filme, duas delas muito boas e uma correspondente a uma tortura de quatro horas. Todas têm zero esperança de lançamento, mesmo com o apelo de uma massa apaixonada, porém extensa como uma kombi – e do próprio diretor de fotografia.
***
- O livro chegou a ser publicado no Brasil com a capa do filme (ed. Novo Conceito) e pode ser encontrado facilmente na Estante Virtual.
- Tentando compreender o raciocínio da empresa bilionária, o pessimismo da Warner em relação à obra não se justificou exclusivamente pelo conteúdo da obra: tudo indicava que um lançamento àquela altura já não atrairia o público, muito por conta da temática (ver item abaixo). A produtora aproveitou para nem tentar.
- 2007 foi um ano notável para o lançamento de belos filmes com cenários tipicamente associados ao western, com Sangue Negro (Paul Thomas Anderson) e Onde os Fracos Não Têm Vez (irmãos Coen). Curiosamente, o editor d’O Assassinato (…), Dylan Tichenor, deixou a produção para trabalhar em Sangue Negro, ao passo que Roger Deakins também é responsável pela cinematografia de Onde os Fracos Não Têm Vez, pela qual também foi indicado (por filmes diferentes, portanto) ao Oscar 2008. Nele, foi derrotado por Robert Elswit, diretor de fotografia de – adivinha só – Sangue Negro. Que triângulo amoroso, não?
- Três anos depois, Roger Deakins foi diretor de fotografia de outro western, Bravura Indômita (2009), dos irmãos Coen – esse derivado de um romance espetacular.
- Andrew Dominik e Brad Pitt viriam a trabalhar juntos no projeto seguinte do diretor, O Homem da Máfia (2012).