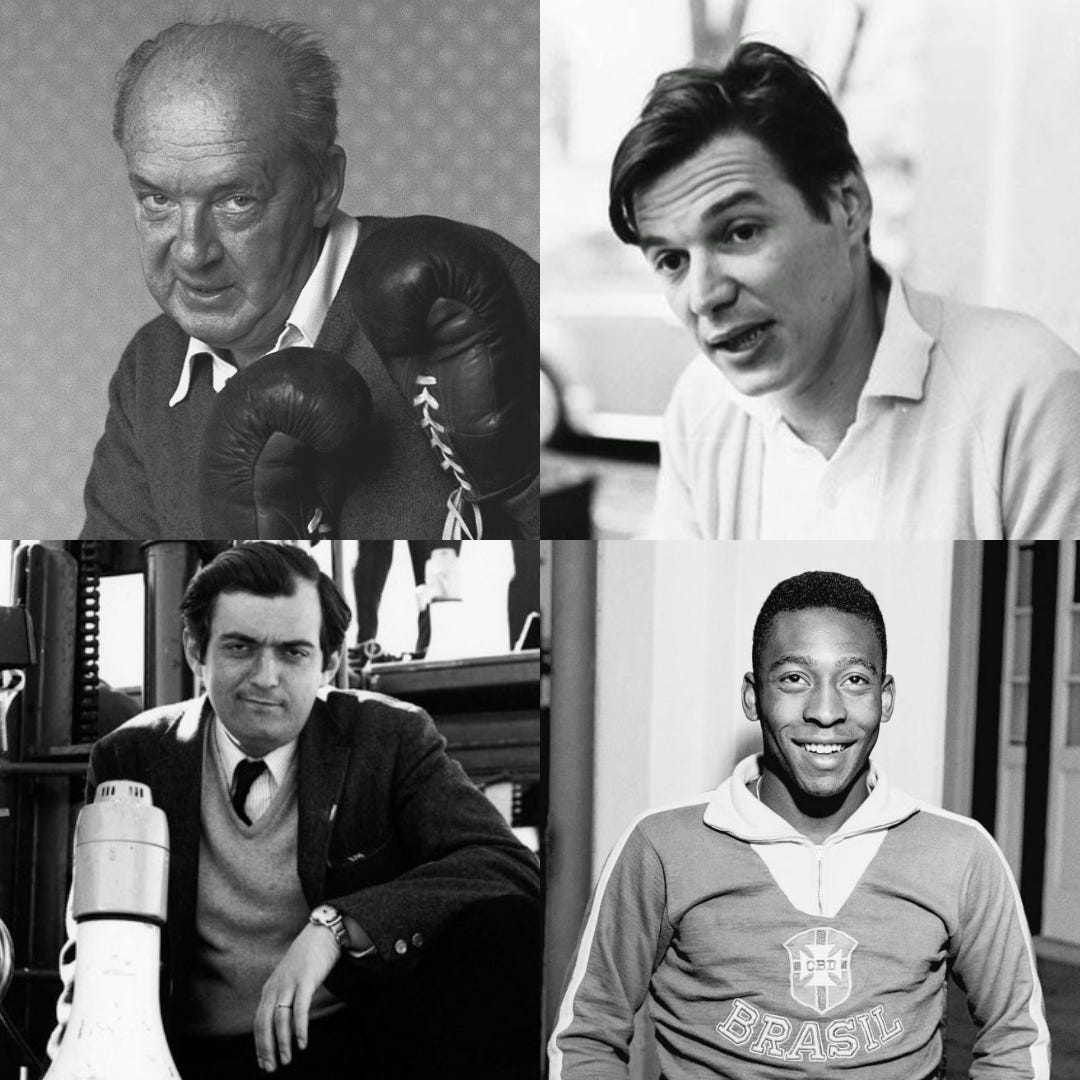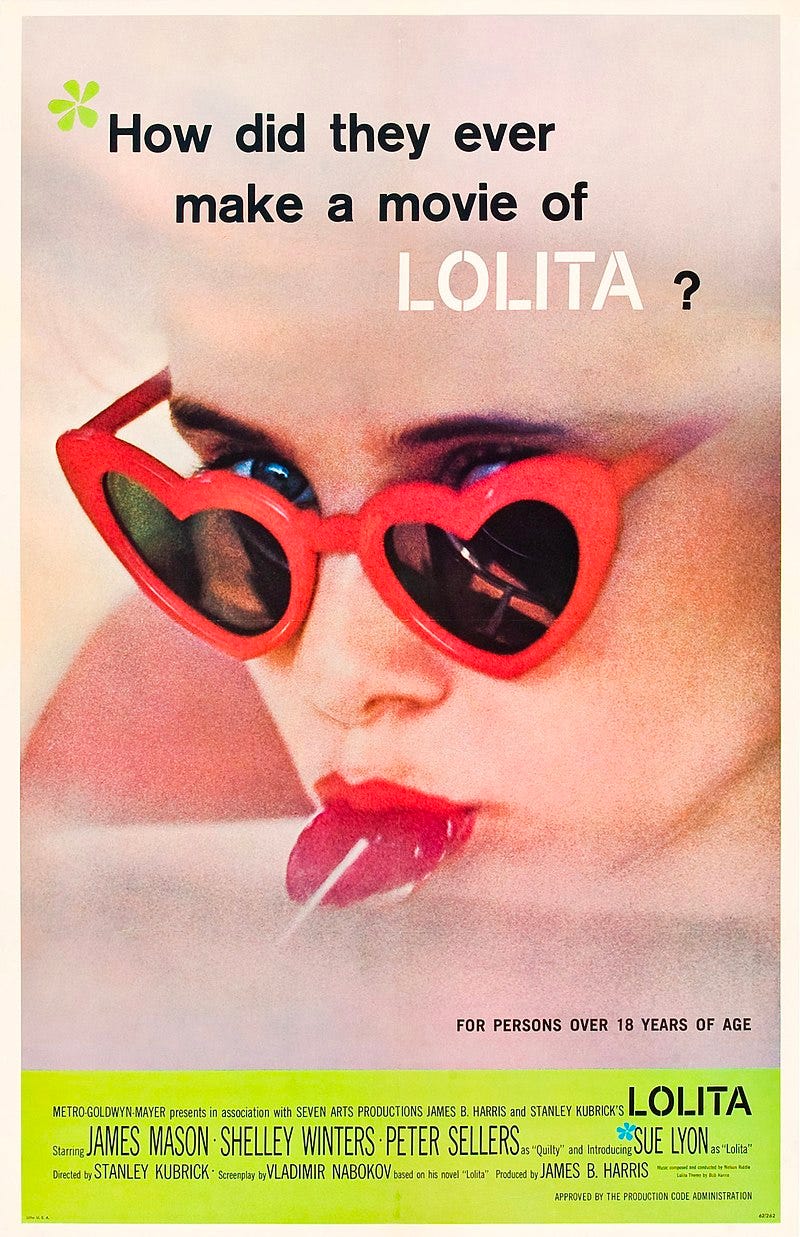Extraído da edição 123 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente. O RelevO pode ser assinado aqui.
Dias Perfeitos: em que consiste uma vida bem vivida?
Como essas coisas que não valem nada
e parecem guardadas sem motivo
(alguma folha seca… uma taça quebrada…)
eu só tenho um valor estimativo. [1]
Wim Wenders produziu grande beleza, e dessa vez em Tóquio. Este alemão é o diretor de Paris, Texas (1984) e de outros quatro filmes que seu amigo formado em Cinema te recomendou à toa (incluindo O Sal da Terra). Sua última obra, Dias Perfeitos (2023), acompanha um zelador japonês a viver uma rotina mundana — o que, logo questionaremos, talvez não seja um pleonasmo.
Hirayama, o protagonista (Koji Yakusho no mais alto nível), limpa banheiros. Com esmero, capricho, atenção. Ele acorda sempre do mesmo jeito; toma o mesmo café da manhã; locomove-se da mesma forma; mantém os mesmos hábitos (fotografia, jardinagem); descansa na mesma praça; banha-se no mesmo lugar; bebe o mesmo highball. Suas tecnologias já pararam no tempo, o que não demove seu prazer, uma vez que ele permanece entusiasta dos alimentos da alma, como música e literatura. [2]
Ao sair do cinema – pela primeira vez, pois acabei reassistindo dois dias depois –, os pômulos tremendo na contenção de lágrimas, retomei alguns questionamentos a que recorro com frequência. Isto é, sabendo que nosso tempo é finito, por que fazemos o que fazemos? O que significa aproveitar a vida?
Em outras palavras, em que consiste uma vida bem vivida? Algumas alternativas óbvias e cumulativas: viajar pelo mundo. Conhecer um grande amor (ou vários). Conquistar poder. Acumular dinheiro.
Qualquer indivíduo que já tenha vivido mais de meia hora neste planeta tem a humildade de não subestimar nenhum desses fatores e, ao mesmo tempo, reconhece que acima de todos eles reside o bem-estar volátil, intempestivo e eternamente angustiado de cada um. Viajar pelo mundo com um grande amor e muito dinheiro certamente ajuda, mas não garante satisfação alguma — não para sempre. Se Anthony Bourdain se matou, por que eu não me mataria?
Com maestria técnica e, principalmente, uma sensibilidade absurda, Dias Perfeitos nos permite absorver como “felicidade” é uma ideia complexa, contraditória e transitória. Mais que isso – a beleza se encontra em dois opostos complementares: (1) a repetição consciente e (2) a quebra inesperada, isto é, aquilo que não pode nunca ser planejado, esperado, calculado (seja o efeito do vento nas folhas, seja o frescor do contato com alguém indiferente às convenções sociais). Abraçar o primeiro ajuda a saborear o segundo.
Não se trata de um filme sobre “a beleza das pequenas coisas”, algo assim. Seu grande mérito é expressar de maneira tão singela como a alegria está contida na tristeza e vice-versa. Não há nada além do agora – o que não é uma frase motivacional, apenas descritiva – e nada existe além da nossa tão esquecida atenção.
E afinal, em que consiste uma vida bem vivida? Por ora, paramos para um interlúdio.
Interlúdio: sobre a redução da ética de trabalho
Aqui, vale mais do que nunca lembrar a anedota do pescador e do estudante de MBA, com tradução via DeepL e revisão nossa. A versão original dessa historinha partiu de outro alemão (!), Heinrich Böll. [3]
Um empresário americano estava no píer de uma pequena vila costeira mexicana quando um pequeno barco com apenas um pescador atracou. Dentro do pequeno barco havia vários atuns albacora grandes. O americano elogiou o mexicano pela qualidade do peixe.
O MBA americano de Harvard: quanto tempo você levou para pegá-los?
Pescador mexicano: só um pouco.
MBA: por que você não fica mais tempo fora e pega mais peixes?
Pescador: tenho o suficiente para atender às necessidades imediatas de minha família.
MBA: mas o que você faz com o resto do seu tempo?
Pescador, respondendo com um sorriso: durmo até tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma siesta com minha esposa, Maria, passeio pelo vilarejo todas as noites, onde tomo vinho e toco violão com meus amigos.
MBA, interrompendo impacientemente: olhe, eu tenho um MBA de Harvard e posso ajudá-lo a ser mais lucrativo. Você pode começar pescando várias horas a mais todos os dias. Depois, você pode vender os peixes extras que pescar. Com o dinheiro extra, você pode comprar um barco maior. Com a renda adicional que esse barco maior trará, em pouco tempo você poderá comprar um segundo barco, depois um terceiro, e assim por diante, até ter uma frota inteira de barcos de pesca.
Orgulhoso de seu raciocínio aguçado, ele elaborou com entusiasmo um grande esquema que poderia trazer lucros ainda maiores:
— Então, em vez de vender seu pescado para um intermediário, você poderá vender seu peixe diretamente para o processador, ou até mesmo abrir sua própria fábrica de conservas. Eventualmente, você poderia controlar o produto, o processamento e a distribuição. Você poderia deixar esse pequeno vilarejo costeiro e se mudar para a Cidade do México, ou até mesmo para Los Angeles ou Nova York, onde poderia expandir ainda mais seu empreendimento.
Pescador: mas, señor, quanto tempo isso vai levar?
MBA, após um rápido cálculo mental: provavelmente cerca de 15 a 20 anos, talvez menos se você trabalhar muito duro.
Pescador: e depois, señor?
MBA, rindo: essa é a melhor parte. No momento certo, você anunciaria uma IPO (Oferta Pública Inicial), venderia as ações da sua empresa ao público e ficaria muito rico, ganharia milhões.
Pescador: milhões, señor? E depois?
MBA, lentamente: depois, você se aposentaria. Aí se mudaria para uma pequena vila costeira de pescadores, onde dormiria até tarde, pescaria um pouco, brincaria com seus filhos, tiraria uma siesta com sua esposa, passearia pela vila à noite, onde poderia tomar um vinho e tocar violão com seus amigos.

Assombrados
Morrer de trabalho, como sugere a anedota acima, é apenas um dos caminhos. A verdade é que desperdiçamos a vida em jogos de vaidades, travamos diante do risco e congelamos por medo de aceitação. Por fim, preenchemos a existência com ruído e feiura. [4]
Não existe fórmula, tampouco algo mais solúvel que “felicidade”. [5] O que diabos é a felicidade? Quem disse que devemos perseguir felicidade? A vida é o que é, os seres humanos são humanos e fazemos o que fazemos — simplesmente. A magia acontece nas pequenas e inesperadas fissuras, nas grandes sensações de momentos discretos, minúsculas quebras da nossa percepção viciada. Repetição e rotina – seja para o zelador de Dias Perfeitos, seja para o editor do RelevO – não são um problema, e definitivamente não são o problema. Toda concentração traduzida em movimento é bela, e o que nos mata é a falta de atenção.
Eis algumas premissas pessoais para tentar, afinal, responder à pergunta principal deste texto. Adoraria “conhecer o mundo”, já uma simplificação (é possível conhecer o mundo?), e certamente associaria esse traço a uma vida bem vivida. Por lógica, isso significa que alguém imóvel leva uma vida menos interessante? Não necessariamente. Vastidão não implica profundidade.
É perfeitamente possível estar em outro lugar e não se submeter a nenhuma ruptura (o famoso brasileiro no estrangeiro procurando churrascaria). É perfeitamente possível se arriscar em uma novidade e continuar apenas um mala em diferentes continentes.
Mas esses são só dois exemplos. Estar em outro lugar favorece pequenas e grandes rupturas, e rupturas em geral favorecem a sensação de estar vivo – o que, por fim, favorece crer que não desperdiçamos a vida. É perfeitamente possível ter rupturas no próprio bairro onde se vive (e, claro, ir para longe tende a refrescar nossa visão local). A mera ideia de experiência já foi tão commoditizada que, por si só, cada um só pode ser seu próprio avaliador de genuinidade.
Como no poema de T.S. Eliot, “o fim de toda nossa exploração será chegar ao ponto de partida”. [6] Explorar o mundo externo é ótimo, mas e aí? Há todo um universo interior para cavucar. Encarar o banquete de consequências é duro porque nossas vidas intrinsecamente carregam um conjunto de vidas não vividas. O que nos aflige são as portas não abertas, principalmente aquelas já trancadas – ainda mais quando vemos outros abrirem. Somos assombrados por elas todos os dias.
Aceitar isso é, de fato, complicadíssimo. Se fosse fácil estar em paz consigo mesmo, não existiria… na verdade, não existiria muita coisa – quase nada! O que cabe a nós é não desperdiçar a nossa atenção, externa e interna. Preparar o café da manhã; limpar o banheiro; conversar com um desconhecido; fundar uma empresa; escalar uma montanha: não se trata do que fazer, mas como. Dias Perfeitos enriquece esse impasse.
De banheiro em banheiro – sem respostas –, seguimos.