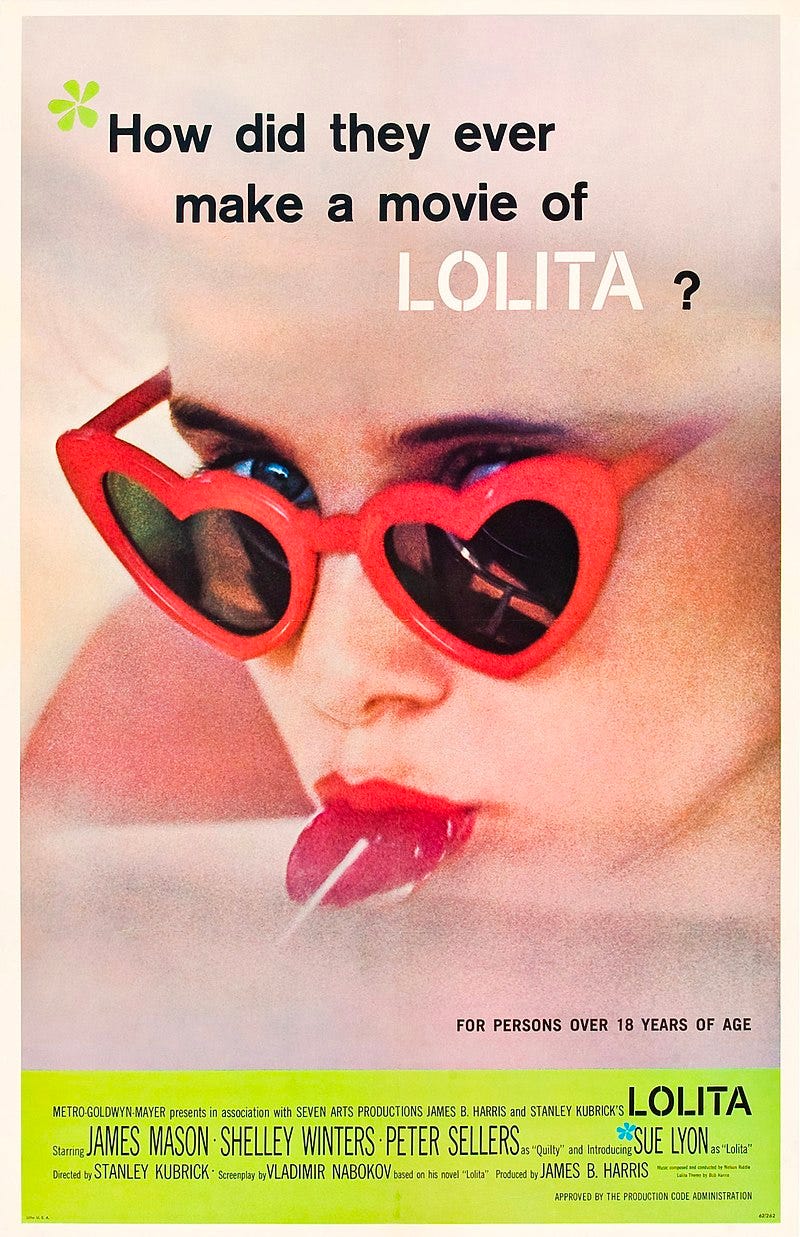Coluna de ombudsman extraída da edição de dezembro de 2022 do Jornal RelevO, periódico mensal impresso. O RelevO pode ser assinado aqui. Nosso arquivo – com todas as edições – está disponível neste link. Para conferir todas as colunas de nossos ombudsman, clique aqui.
A realidade é dura, car_s leitor_s, e eis que me encontrarei, depois do fechamento da presente edição, demitido de minha tão amada função de ombudsman do RelevO. E não me adianta vociferar contra os editores, brandir com virulência frases de efeito sobre as cruéis leis de mercado, a insensibilidade do capitalismo neoliberal: nada disso seria verdade. Eis que me encontro demitido porque essa é a beleza da função de ombudsman no RelevO: ela é rotativa, e no mês que vem outra cabeça virá dialogar com as páginas do jornal, suas qualidades, eventuais fragilidades, idiossincrasias, bem como com a voz de leitor_s que, pela natureza da mensagem, reclamam (e merecem) diálogo. As linhas acima, com certo quê dramático, são apenas pra ressaltar o gosto com que desempenhei essa função, aderindo ao projeto editorial com amor, e tendo percebido mais ainda, de dentro, a sua inteireza, seu compromisso, sua ética.
No entanto, a função de ombudsman também implicou no diálogo com o presente: o texto da edição de novembro foi escrito sob uma atmosfera carregada de angústia, às vésperas do segundo turno das eleições mais dramaticamente decisivas desde a redemocratização, todos nós atravessados por certo desespero diante do claro avanço do fascismo sobre nossas instituições, com apoio do mercado e das classes médias, essas em que vamos imersos. Provisoriamente vencemos, uma vitória por menos votos do que se esperava, até porque, pelo que soube no contato direto com diversos pontos de meu Rio de Janeiro — que continua lindo e selvagem —, o voto de cabresto foi ostensivamente remixado ao arrepio dos tribunais eleitorais, e de modo tão competente, capilarizado, fragmentado, que nos faz entender o motivo da decepção do candidato fascista e dos milicianos mais próximos a ele: as estratégias espúrias por pouco não deram certo, e eles esperavam realmente ganhar. Não fosse o Nordeste, teriam logrado êxito.
Emergimos do outro lado do túnel nutrindo grandes esperanças, e eis que escrevo esta última coluna sob o céu de Paraty, pedaço de território em que agora se movem escritor_s, poetas, editor_s, leitor_s e outr_s louc_s de plantão em meio a muitos exemplares das classes médias que vêm espargir seu brilho fátuo e fake, edulcorado pelo que capturam por osmose ao discurso da propaganda, enquanto provavelmente sentem um frisson percorrendo a espinha toda vez que os telejornais ou outros veículos mencionam a palavra “mercado”, posto que seus prazeres são profundamente integrados a ele, chegando a emular suas leis mesmo quando não haveria motivo razoável para que isso ocorresse. O pior: esse quadro inclui as parcelas há bem pouco tempo despauperizadas. As classes médias são um fenômeno complexo. Sempre que penso nelas me lembro, entre o riso e a tristeza, de uma reunião entre o centro acadêmico e a direção do IFCS — Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, onde puxei algumas disciplinas, por interesse pessoal (meu curso era Arquitetura), no começo dos anos 1980. No embate político que se dava, a imagem que um amigo empregou para representar os corpos discente e docente do IFCS foi simplesmente genial, pelo poder de síntese de sua metáfora, pelo aspecto inusitado e escatológico, alcançando grande impacto por força do choque (estamos falando de um momento em que a ditadura civil-militar ainda vigia, por mais que estertorasse), e para mim sempre representou também uma imagem fiel das classes médias, onde quer que elas vivam. Nas palavras dele, que tento escavar na memória, “nós somos como aquela parte da merda que, quando bate na água do fundo, espirra e se gruda pelo meio do vaso, e aí ficamos contentes de não estarmos no fundo, mas quando derem a descarga, nosso destino é o mesmo”. Este é o sentimento que guia as classes médias, e faz com que sejam aderentes aos fascismos de toda cepa, e é dessa parcela da sociedade que saem os intelectuais que, em percentual não desprezível — utilizando aqui a terminologia de Gramsci —, agem como prepostos do grupo dominante, comprometidos que estão em garantir que a visão de mundo e as práticas sociais do povo estivessem afinadas com o desenvolvimento da estrutura econômica daquele grupo. Foram intelectuais dessa espécie que emitiram, quase em uníssono, a frase “o mercado reagiu negativamente” quando Lula reafirmou seu maior compromisso de campanha que acabar com a fome é mais importante que respeitar o teto de gastos (que deveria ser entendido como teto de investimentos no bem-estar social). Para combater esse estado de coisas, temos outros intelectuais, dos quais Chico Science fez outra brilhante síntese: “E com o bucho mais cheio comecei a pensar/ Que eu me organizando posso desorganizar/ Que eu desorganizando posso me organizar”. Desorganizar a visão de mundo dominante, desorganizar as bases do capitalismo, que, em sua forma mais estrita, recende a fascismo.
A última edição é toda dedicada à Copa, ao futebol, à literatura dos países que estão na competição, e já vamos quase pela metade do texto sem nada falar sobre a relação entre a pelota e a pena. Pois aqui vamos, então, auxiliados por Pasolini, que, em texto descoberto por meio do livro Veneno remédio: o futebol e o Brasil, de José Miguel Wisnik, fala do futebol como algo que oscila entre a poesia e a prosa. Pasolini acabara de ver o mundial de 1970, e estabeleceu uma relação entre o futebol-prosa da seleção italiana (alheio ao drible por preferir a “prosa coletiva” da construção da jogada ensaiada, o gol nasceria como a conclusão de um raciocínio tornado visível pela organização coletiva), e o futebol-poesia do escrete brasileiro (o drible, o toque de efeito, a alegria gratuita). Na verdade, levei o equivalente a duas odisseias (em tempo, sem dúvida, e parcialmente em atribulações) até começar a ver o futebol sem preconceito. Não estou muito mal acompanhado, tenho a meu lado Lima Barreto, “que viu na adoção do esporte inglês no Brasil a degradação da cultura intelectual, a afirmação de um poder tiranizador e truculento, e uma sobre carga racista que a abolição havia atenuado”, como nos relata Wisnik. Se o velho Lima não estava completamente equivocado, também não acertou em cheio, porque não supôs o que nossa permanente vocação antropófaga faria com o esporte bretão nos campinhos de várzea, de onde surgiram deuses como Didi “Folha Seca”, Garrincha, Tostão, Pelé e talvez o jovem Richarlison, de quem sei pouco mais do que ter vindo do Espírito Santo, e demonstrar uma ética bastante precisa sobre questões sociais. Na contracorrente da visão do futebol que levei anos pra construir, como uma realidade mais complexa e não redutível ao bordão “esporte-alienação”, a percepção de que o mercado (sempre o mercado) atua como um vírus se combinando com as entranhas do esporte, catapultando meninos despreparados ao patamar de milionários em geral deslumbrados que não têm nada a oferecer como modelos para meninos do futuro além da habilidade de seus corpos em campo — não falo aqui do futebol das mulheres porque segue, ainda, outras lógicas, espelho que é das estruturas da sociedade: mulheres executam as mesmas funções ganhando menos, e com menos visibilidade, mesmo apresentando, não raro, maior profissionalismo, desempenho, dedicação, talento.
Como nada é simples, o futebol é também um campo privilegiado de observação do social, reproduz suas grandezas, suas mazelas, as paixões, exclusões, e na literatura, assim como na canção popular, no cinema, nas telenovelas, e em todas as demais manifestações da arte e da indústria cultural, funciona como motor de obras fundamentais — o painel traçado por RelevO é um testemunho disso. Entre os 32 textos selecionados para a edição de novembro, alguns são a representação da complexidade que se move sobre o idioma de cada povo, e a espessura com que certos poemas e trechos de prosa capturam esses movimentos complexos sob os códigos da linguagem nos atinge como um dardo. Os poemas de Elke Erb, Ghazi Al-Gosaibi, Kim Chun-Soo, Akiko Yosano, Irit Amiel, sem falar no poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, sua permanente investigação sobre o mar e a alma humana, e nos versos de Dylan Thomas, sobre seu/nosso ofício ou arte amarga, essa que nos traz aqui para indagar nos versos de tantos lugares do mundo a forma de nosso rosto.
Ao longo desses 12 meses penso não ter feito outra coisa senão perscrutar o que de nosso rosto fragmentário estava posto em cada página do RelevO, o quanto de nossa seiva comum percorria as fibras de celulose das páginas do jornal, imantadas pela tinta negra. O desenho desse rosto será cada vez mais importante como guia para fora do labirinto para onde nos vimos conduzidos, um pouco anestesiados que estávamos, talvez inebriados com as conquistas do campo progressista, parcas ainda, mas conquistas, relativas, mas conquistas, incompletas, mas conquistas distensionando relações, redimensionando estruturas, reelaborando percursos. Houve um lado positivo nesse habitar o labirinto: ao longo da dolorida estadia pudemos contemplar, ao menos parcialmente, a profundidade do abismo que existe quase em todo o entorno, como um fosso, e mesmo que ainda dentro dele conseguimos agora entrever a estreita passagem de volta, como um nada fácil contorno que teremos que cumprir até retomar o empuxo anterior, agora com certeza — sim, esperemos isso — com um sólido princípio de realidade. Queria deixar nessas palavras finais uma provocação aos editores do RelevO, e também a editor_s de todas os veículos de literatura, a escritor_s, poetas, leitor_s: que ações concretas podemos fazer, com ou sem apoio do Estado, para nos afastarmos cada vez mais do labirinto e do abismo que é seu entorno imediato? De que modos podemos sair em campo, mais ainda que antes, com mais força, mais assertividade, mais atenção e fúria, para fazer da literatura um instrumento ainda mais concreto e efetivo de transformação social, sulcando mais fundo a realidade desse presente conturbado?
Por fim, meu muito obrigado aos editores do Jornal pela parceria incondicional, a tod_s _s leitor_s pela interação possível, e que esta edição, que vocês têm em mãos agora, seja um sinal do novo tempo que devemos fazer com nossos corações, nossas mentes, nossas mãos, nossos corpos.