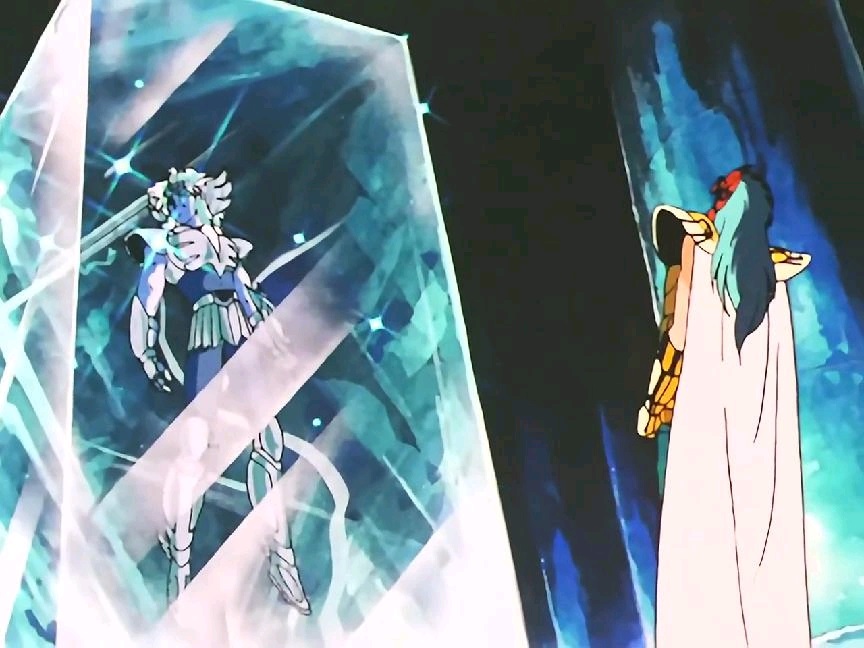Extraído da edição 56 da Enclave, a newsletter do Jornal RelevO. A Enclave, cujo arquivo inteiro está aqui, pode ser assinada gratuitamente.

Dez anos atrás – um pouco antes, um pouco depois – a emissora americana NBC encaixava uma sequência mágica de séries de comédia. Nas noites de quinta-feira, o canal de TV aberta transmitia The Office (2005-2013), 30 Rock (2006-2013), Parks and Recreation (2009-2015) e Community (2009-2015), não necessariamente nessa ordem.
Até o momento, todas envelheceram muito bem. Claro que não faz muito tempo que acabaram, portanto não dispomos do distanciamento necessário para cravar a relevância histórica de cada uma, mas é notável como a audiência da internet não só não permitiu que arrefecessem como parece impulsioná-las gradativamente.
Community retornou à Netflix brasileira há pouco tempo, o que tem renovado seu público. A série também está disponível no Prime Video. Já faz mais de dez anos que o primeiro episódio foi ao ar, e esse envelhecimento reforça a impressão de que Community estava à frente de seu tempo.
As histórias de bastidores da produção são bastante conhecidas. A maioria envolve as peripécias do criador, o idiota-prodígio Dan Harmon, e o temperamento complicado de Chevy Chase, de longe o nome mais famoso da atração, ao menos quando ela começou.
Grosso modo, Community não conseguia uma grande audiência. Harmon foi demitido da própria criação. Uma temporada se passou sem ele – abaixo das outras. Surpreendentemente, Harmon foi readmitido para outra. Durante e depois dela, alguns atores deixaram a série, a qual foi cancelada, então magicamente reativada pelo Yahoo, onde permaneceu por uma temporada final. A audiência se manteve, se não baixa, ao menos pouco impressionante. Mas Community terminou com dignidade.
E, de fato, não abordaremos tanto por que razão Community é brilhante, embora possamos fazê-lo em outra oportunidade. A série é engraçada (oras); tem personagens carismáticos, com dilemas verossímeis; carrega a metalinguagem como recurso, não muleta; fornece pastiches e paródias caprichados; abraça o multiculturalismo dos personagens de forma muito genuína.
Enfim, como toda ou, pelo menos, a maioria das obras extraordinárias – e Community é uma obra extraordinária –, o êxito artístico da criação de Dan Harmon exigiu a colaboração de um núcleo de pessoas talentosas. Afinal, como já sintetizou José Mourinho, “sem ovos, não se fazem omeletes – e depende da qualidade dos ovos”. Isso responde como Community se tornou brilhante: com muitos ovos de qualidade.
Depois de Community, Dan Harmon criou Rick and Morty (2013-) com Justin Roiland. A animação estourou e dispõe da notável vantagem mercadológica de vender bonecos e afins. Além disso, ser uma animação (que depende mais do próprio Roiland, quem grava as vozes dos protagonistas) confere uma flexibilidade maior para contornar o comportamento errático de Harmon.
Os irmãos Anthony e Joseph Russo, produtores executivos da série e diretores de 48 de seus 110 episódios, acabaram contratados pela Marvel para dirigir Tanto Faz 5 e Herói Genérico 7, além dos dois últimos filmes dos Vingadores. Cada um deles rendeu mais de US$ 2 bilhões aos androides da Disney, e o último detém a maior bilheteria da história do cinema.
A Enclave não assistiu, portanto não avalia; fato é que ninguém é escolhido para tocar um projeto tão grande sem apresentar um leque amplo de habilidades – mesmo que depois elas sejam pasteurizadas sem dó.
Por sua vez, Ludwig Göransson, responsável pelas músicas autorais que ouvimos ao longo de Community, compôs as trilhas sonoras de Creed (2015), The Mandalorian (2019-) e Tenet, o próximo filme de Christopher Nolan. Além disso, colabora frequentemente com o rapper Childish Gambino, assinando composições e produções em todos os seus álbuns.
Childish Gambino, para quem desconhece a ligação, é Donald Glover, e Donald Glover – ator, músico, roteirista (de 30 Rock, inclusive) e criador de Atlanta (2016-) –, hoje mais consagrado do que nunca, é um dos protagonistas de Community.
Ainda no elenco, Jim Rash ganhou um Oscar pelo roteiro adaptado de Os Descendentes (2011). Alison Brie, que já dava as caras em Mad Men (2007-2015), participou de BoJack Horseman (2014-2020) e estrelou GLOW (2017-2019). John Oliver estourou na HBO com seu Last Week Tonight (2014-). Concluímos que eram ovos muito competentes em diferentes esferas: está respondido o como.
Anteontem (18), durante a quarentena, o elenco se reuniu (com Dan Harmon) para ler o roteiro de um episódio icônico da quinta temporada – um bottle episode, isto é, aquele mais econômico possível, que geralmente se passa em um só cenário. Eles também responderam perguntas de fãs.
Há uma leveza na dinâmica dos envolvidos – leveza repetida em toda interação pública de elenco e produção, que costumam se reunir em diferentes projetos atuais. Essa naturalidade, a famosa química, é mais abstrata, mas certamente explica, ora como causa, ora como consequência, como (e por que) uma obra consegue atingir todo o seu potencial. Pode ser verificada na constância com que um faz o outro gargalhar, costurando a atmosfera típica de piada interna.
Community é uma série sobre amizade e (não) pertencimento. Joel McHale, protagonista (e eventualmente produtor informal), compreende exatamente a que se refere a magia de seu conteúdo: “Dan (Harmon) é o mestre das piadas dirigidas aos personagens, e há uma diferença muito grande entre piadas e piadas dirigidas aos personagens, que partem do que se passa com o personagem – em oposição a ‘aqui vai algo engraçado para falar’ (…). Por isso eu ficava furioso quando algum crítico dizia ‘é só humor referencial’.”
Com os instrumentos certos, Dan Harmon conseguiu converter sua visão em uma comédia demasiadamente humana, traduzindo a insegurança, o comprometimento e o humor derivados da construção de intimidade. Community emula o conforto de ser alvo das piadas de um amigo muito próximo.